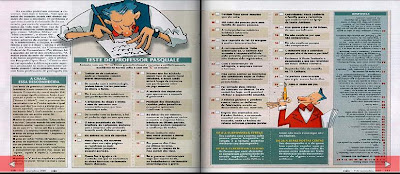Instrumentos para o trabalho do professor de Língua Portuguesa: gêneros textuais em foco.
VÍDEOS COM
Prof Ms Egon de Oliveira Rangel“Textos literários na escola”.
Profa Dra Ana Rachel Machado. Interracionismo - Ergonomia,Clínica da Atividade
Profa Dra Lilia Santos Abreu Tardelli.Perspectivas no ensino de gêneros textuais.
SOBRE O TRABALHO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM SALA DE AULA
Palestras para a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. 2010.
Páginas
- Início
- CONTEXTO JORNALÍSTICO
- ARTIGO DE OPINIÃO
- CONECTORES
- RESENHA e RELATÓRIO
- CRÔNICA
- OUTROS GÊNEROS
- GÊNEROS e TIPOLOGIA
- AVALIAÇÃO
- CONTOS E CIA
- DISSERTAÇÃO
- A LÍNGUA
- SEQUÊNCIA DIDÁTICA
- PROPAGANDA E ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
- LITERATURA
- MULTILETRAMENTOS
- ESTRATÉGIAS DE LEITURA
- ELETIVAS
- VERBOS
- NIVELAMENTO
- ESTANTE
- SISU-PROUNI-FIES-ENEM
- Profª Coord. Oficina Pedagógica - L.Portuguesa - 2004-2012
- 2013
- 2014
- ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- ABOUT ME
- FERRAMENTAS GRATUÍTAS
terça-feira, 19 de julho de 2011
segunda-feira, 11 de julho de 2011
DISCUSSÃO SOBRE LIVRO DIDÁTICO: POR UMA VIDA MELHOR
CAPÍTULO DO LIVRO
DOSSIÊ
DISCUSSÃO SOBRE LIVRO DIDÁTICO SÓ REVELA IGNORÂNCIA DA GRANDE IMPRENSA
AÇÃO EDUCATIVA
O livro, "Por uma vida melhor", busca desmistificar a noção de erro, substituindo-a pela de adequação/inadequação. Isso porque, a Linguística, bem como qualquer outra ciência humana, não pode admitir a superioridade de uma expressão cultural sobre outra. Ao dizer que a população com baixo grau de escolaridade fala ―errado‖, o que está-se dizendo é que a expressão cultural da maior parte da população brasileira é errada, ou inferior à das classes dominantes. Isso não pode ser concebido, nem publicado deliberadamente como foi nos meios de comunicação. É esse ensinamento básico que o material propõe, didaticamente, aos alunos que participam da Educação de Jovens e Adultos. Mais apropriado, impossível. Paulo Freire ficaria orgulhoso.
(alunos da PUC-SP - formandos 2011)
------------------------------------------
O assunto é antigo:
Carta de Marcos Bagno para a revista Veja (EDIÇÃO 1725)
Revista VEJA _ Edição 1752 (nov 2001)
São Paulo, 4 de novembro de 2001
Sr. Editor,
Em 1990, o lingüista e educador britânico Michael Stubbs escrevia que “toda a área da língua na educação está impregnada de superstições, mitos e estereótipos, muitos dos quais têm persistido por séculos e, às vezes, com distorções deliberadas dos fatos lingüísticos e pedagógicos por parte da mídia”. É triste constatar que essas palavras, publicadas há mais de uma década, se aplicam com precisão impressionante ao que ainda ocorre hoje em dia no Brasil. Afinal, de que outro modo qualificar a reportagem de capa do número 1725 de VEJA senão como uma série de “distorções deliberadas dos fatos lingüísticos e pedagógicos por parte da mídia”?
O texto assinado pelo Sr. João Gabriel de Lima demonstra o quanto nossos meios de comunicação de massa se encontram, perdoe-me o lugar-comum, na contramão da História quando o assunto é língua. Há um absoluto despreparo de jornalistas e comunicadores para tratar do tema (um exemplo gritante disso veio a público em outra edição recente de VEJA, a de número 1710, com a reportagem “Todo mundo fala assim”).
Se falo de contramão é porque – passados mais de cem anos de surgimento, crescimento e afirmação da Lingüística moderna como ciência autônoma -, a mídia continua a dar as costas à investigação científica da linguagem, preferindo consagrar-se à divulgação e sustentação das “superstições, mitos e estereótipos” que circulam na sociedade ocidental há mais de dois mil anos. Isso é ainda mais surpreendente quando se verifica que, na abordagem de outros campos científicos, os meios de comunicação se mostram muito mais cuidadosos e atenciosos para com os especialistas da área. Quando o assunto é língua, porém, o espaço maior é invariavelmente ocupado por alguns oportunistas que, apoderando-se inteligentemente dessas “superstições, mitos e estereótipos”, conseguem transformar esse folclore lingüístico em bens de consumo que lhes rendem muito lucro financeiro, além de fama e destaque na mídia. Basta comparar o espaço dedicado, no último número de VEJA, ao Prof. Luiz Antônio Marcuschi (reconhecido quase unanimemente hoje no Brasil como o nome mais importante da ciência lingüística entre nós) e aos atuais pregadores da tradição gramatical que infestam o quotidiano dos brasileiros com suas quinquilharias multimidiáticas sobre o que é “certo” e “errado” na língua.
Seria espantoso ver uma matéria de VEJA em que aparecessem zoólogos falando mal da Biologia, ou engenheiros criticando a Física, ou cirurgiões maldizendo da Medicina. No entanto, ninguém se espanta (e muitos até aplaudem) quando o Sr. João Gabriel de Lima, fazendo eco aos detratores da Lingüística (como o Sr. Pasquale Cipro Neto), fala da existência de “certa corrente relativista” e escreve absurdos como “trata-se de um raciocínio torto, baseado num esquerdismo de meia-pataca, que idealiza tudo o que é popular – inclusive a ignorância, como se ela fosse atributo, e não problema, do ‘povo’. O que esses acadêmicos preconizam é que os ignorantes continuem a sê-lo.” Seria muito fácil retrucar que estamos aqui diante de um “direitismo de meia-pataca” que acredita na existência de uma “ignorância popular”, mas, como cientista, prefiro recorrer a outro tipo de argumento, baseado na reflexão teórica serena e na experiência conjunta de muitas pessoas que há anos se dedicam ao estudo e ao ensino da língua portuguesa no Brasil.
Segundo a reportagem, as críticas que o Sr. Pasquale Cipro Neto recebe dessa “corrente relativista” deixam-no “irritado”. Ora, o que parece realmente irritar o Sr. Pasquale é o fato de que, apesar de obter tanto sucesso entre os leigos, nada do que ele diz ou escreve é levado a sério nos centros de pesquisa científica sobre a linguagem, sediados nas mais importantes universidades do Brasil – centros de pesquisa lingüística, diga-se de passagem, reconhecidos internacionalmente como entre alguns dos melhores do mundo (Unicamp, USP, Unesp, UFRGS, UFPE entre outras). Muito pelo contrário, se o nome do Sr. Pasquale é mencionado nas nossas universidades, é sempre como exemplo de uma atitude anticientífica dogmática e até obscurantista no que diz respeito à língua e seu ensino (em vários de seus artigos em jornais e revistas ele já chamou os lingüistas de “idiotas”, “ociosos”, “defensores do vale-tudo” e “deslumbrados”).
Se o Sr. Pasquale se irrita com os cientistas da linguagem, é porque sabe que não tem como responder às críticas que recebe por parte dos pesquisadores, dos teóricos e dos educadores empenhados num conhecimento maior e melhor da realidade lingüística do nosso país. Digo isso com base na experiência de já ter participado de três debates junto com o Sr. Pasquale e ter conhecido sua estratégia de nunca responder com argumentos consistentes às críticas a ele dirigidas, preferindo sempre retrucar com arrogância, prepotência, grosserias e ataques pessoais (chamando os lingüistas de “ortodoxos” – seja isso lá o que for – e de “bichos-grilos”) ou fazendo-se de vítima de alguma perseguição (num desses encontros ele declarou sentir-se como um “boi de piranha”).
A razão para essa falta de argumentos consistentes é muita simples: o Sr. Pasquale não tem formação científica para tratar dos assuntos de que trata. Suas opiniões se baseiam exclusivamente na arcaica doutrina gramatical normativo-prescritiva, cuja inconsistência teórica e cujos problemas epistemológicos graves vêm sendo demonstrados e criticados pela Lingüística moderna desde pelo menos o final do século XIX. As concepções do Sr. Pasquale de “certo” e de “errado” estão em franca oposição, não só com as teorias científicas mais atuais, mas até mesmo com a postura investigativa dos gramáticos profissionais de sólida formação filológica (coisa que ele definitivamente não é), para não mencionar as diretrizes pedagógicas das instâncias superiores da Educação nacional. O documento do Ministério da Educação chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, é bem explícito em seu volume dedicado ao ensino da língua portuguesa: A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia sobre ‘o que se deve e o que não se deve falar e escrever’, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua.E este mesmo documento é enfático ao afirmar que:há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar: é muito comum se considerarem as variedades lingüísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional mais amplo de educação para o respeito à diferença. Para isso, e também para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma ‘certa’ de falar – a que se parece com a escrita – e o de que a escrita é o espelho da fala – e, sendo assim, seria preciso ‘consertar’ a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um deles tenha em um dado momento histórico.É provável, no entanto, que o Sr. Pasquale Cipro Neto e o Sr. João Gabriel de Lima acreditem que os Parâmetros Curriculares Nacionais sejam obra de membros daquela “corrente relativista” que conseguiram se infiltrar no Ministério da Educação e se apoderar da redação do documento oficial. Vamos, então, deixar de lado as propostas oficiais de ensino e lançar um olhar sobre a própria prática normativo-prescritiva de pessoas como o Sr. Pasquale – assim ficará mais fácil descobrir por que ele não encontra argumentos para reagir às críticas bem-fundadas dos lingüistas e educadores sérios e por que só consegue fazer sucesso entre os leigos e os que se recusam (certamente por motivações ideológicas) a aceitar uma concepção de língua mais democrática.
Consultando a gramática que Pasquale Cipro Neto assina em parceria com Ulisses Infante (Gramática da Língua Portuguesa, Editora Scipione, São Paulo, 1998), encontra-se, à p. 521-522, a seguinte explicação para o uso supostamente “correto” do verbo custar:Custar, no sentido de “ser custoso”, “ser penoso”, “ser difícil” tem como sujeito uma oração subordinada substantiva reduzida. Observe:
Ainda me custa aceitar sua ausência.
Custou-nos encontrar sua casa.
Custou-lhe entender a regência do verbo custar.
No Brasil, na linguagem cotidiana, são comuns construções como “Zico custou a chutar” ou “Custei para entender o problema” [...]
Na língua culta, essas construções em que custar apresenta um sujeito indicativo de pessoa são rejeitadas. Em seu lugar, devem-se utilizar construções em que surja objeto indireto de pessoa: “Custou a Zico chutar” (= Custou-lhe chutar”)Quero chamar a atenção, aqui, para a seguinte afirmação dos autores: “Na língua culta, essas construções [...] são rejeitadas”. Aqui está um exemplo claro e nítido de uma concepção abstrata da língua, tratada como uma espécie de entidade viva, de sujeito animado, capaz de “rejeitar” alguma coisa. Ora, que língua culta é essa que supostamente rejeita essas construções? Será a língua dos nossos grandes escritores, que sempre serviu de material para o trabalho dos gramáticos normativistas? Fui investigar e descobri que não é, porque os exemplos de uso do verbo custar com sujeito são mais do que abundantes na nossa melhor literatura:(1) “Seixas custou a conter-se” (José de Alencar)
(2) “… as moças custavam a se separar” (Clarice Lispector)
(3) “Renato custou a acordar” (Carlos Drummond de Andrade)
(4) “Felicidade, custas a vir e, quando vens, não te demoras” (Cecília Meireles)”Será que Alencar, Clarice Lispector, Drummond e Cecília Meireles não são bons exemplos de usuários da “língua culta”? Se não é na literatura, quem sabe, então, se recorrermos à imprensa contemporânea? Será que é lá que mora a famosa “língua culta” que rejeita essas construções? Ora, consultando o jornal onde o próprio Pasquale Cipro Neto escreve (Folha de S. Paulo) e onde presta serviços de “consultor de português” (seja isso lá o que for), encontramos:(6) Quem foi ao show de Maria Bethânia, anteontem à noite, depois de assistir o sóbrio concerto de João Gilberto, custou a crer que estivesse na mesma cidade (22/6/1998, p. 5-10).(7) O técnico colombiano, Hernán Darío Gómez, [...] custou a admitir a superioridade rival (16/6/1998, p. 4-14).(8) O nome Kubitschek era complicado de pronunciar, custou a ser assimilado pela fonética eleitoral (21/11/1997, p. 4-3).Se lembrarmos que José de Alencar morreu em 1877, fica muitíssimo claro que essa construção está viva e presente na nossa língua há muito mais de um século! Os autores da gramática estão proferindo uma inverdade ao dizer que essa construção é típica do “Brasil quotidiano”. Os Srs. Pasquale e Ulisses, em vez de se curvar à realidade concreta dos fatos, tentam nos convencer de que a opção que eles preferem, só porque é a tradicional, é que deve ser considerada “a melhor”. É uma atitude essencialmente dogmática, que se recusa a empreender a pesquisa empírica mínima necessária para afirmações sobre o que existe e o que não existe na língua. Além disso, essa atitude é ainda mais conservadora do que a posição assumida por gramáticos de gerações anteriores à deles, como Celso Pedro Luft e Domingos Paschoal Cegalla, que reconhecem a vitória da construção “eu custo a crer que”…
Esse é apenas um pequeno exemplo de como é fácil, para um pesquisador munido de instrumental teórico consistente e de metodologia científica adequada, desautorizar uma a uma, e de modo convincente, as afirmações presentes no trabalho do Sr. Pasquale Cipro Neto e de outros atuais defensores da doutrina gramatical tradicional mais normativa e mais prescritiva possível. Por causa de tudo isso é que a estréia do Sr. Pasquale no programa Fantástico da Rede Globo representa, para a grande maioria dos cientistas da linguagem e dos educadores conscientes, mais um exemplo de como o nosso trabalho ainda está no começo, apesar de tudo o que já temos dito e feito. O quadro do Sr. Pasquale no Fantástico faz regredir em pelo menos 25 anos os grandes avanços já obtidos pela Lingüística na renovação do ensino de língua na escola brasileira. Não consigo, portanto, deixar de repetir o chavão: ele se encontra na contramão da História.
Como já enfatizei acima, pessoas como o Sr. Pasquale só conseguem fazer sucesso entre os leigos, porque dizem exatamente o que as pessoas desejam ouvir: os mitos, as superstições e as crenças infundadas que, há mais de dois mil anos, guiam o senso-comum ocidental no que diz respeito à língua. Refiro-me ao senso-comum ocidental porque essa situação de embate entre uma ciência lingüística moderna e uma doutrina gramatical arcaica também se verifica em outros países – basta ler os livros Language Myths, publicado na Inglaterra sob organização de L. Bauer e P. Trudgill, e o Catalogue des idées reçues sur le langage, publicado na França por Marina Yaguello. É por isso que escrevi, acima, que nossa luta ainda está no começo. É uma pena que não possamos contar com a ajuda dos meios de comunicação para dissipar todos esses mitos e preconceitos, que impedem a formação, no Brasil em particular, de uma auto-estima lingüística, uma vez que tudo o que os brasileiros ouvem e lêem são os mesmos chavões, repetidos há séculos, de que “brasileiro não sabe português” e que a língua que falamos é “português estropiado”. (O pesquisador canadense Christophe Hopper localizou lamúrias e queixas sobre a “ruína” e a “decadência” do francês em textos publicados em 1933, 1905, 1730 e 1689, o que prova a antiguidade desse discurso alarmista e preconceituoso sobre o fenômeno da mudança das línguas ao longo do tempo!)
Outro fato lamentável, na reportagem de VEJA, é que seu autor não tenha prestado o grande favor à sociedade de identificar quem são os membros dessa “certa corrente relativista”, para que todos, público leitor em geral e lingüistas profissionais em particular, pudéssemos nos precaver contra o suposto “raciocínio torto” de um “esquerdismo de meia-pataca” dos que acreditam que ensinar a norma-padrão não seria útil para as classes sociais desfavorecidas. Minha curiosidade ficou especialmente aguçada porque, como pesquisador dedicado há muitos anos ao estudo das relações entre língua, ensino de língua e fenômenos sociais, até hoje não encontrei uma única obra – assinada por lingüista de formação ou por educador profissional – que negasse a importância do ensino da norma-padrão na escola brasileira, que pregasse a idéia torpe de que não se deve ensinar as formas prestigiosas da língua, ou que “preconizam que os ignorantes continuem a sê-lo”, para citar as palavras infelizes da reportagem de VEJA.
Entre os membros da comunidade acadêmico-científica que não se intimidam diante da pressão esmagadora das “superstições, mitos e estereótipos” sobre a língua podemos citar a Profa. Magda Soares (reconhecida como uma das mais importantes educadoras brasileiras de todos os tempos) e o Prof. Sírio Possenti (que nunca teve papas na língua para denunciar e demolir cientificamente os absurdos proferidos por gente como Pasquale Cipro Neto). Ora, já em 1986, Magda Soares, em seu livro (um clássico da educação brasileira) Linguagem e Escola (Editora Ática), escrevia, sem hesitação (p. 78):Um ensino de língua materna comprometido com a luta contra as desigualdades sociais e econômicas reconhece, no quadro dessas relações entre a escola e a sociedade, o direito que têm as camadas populares de apropriar-se do dialeto de prestígio, e fixa-se como objetivo levar os alunos pertencentes a essas camadas a dominá-lo, não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que divide e discrimina, mas para que adquiram um instrumento fundamental para a participação política e a luta contra as desigualdades sociais.Também em seu muito divulgado livro Por que (não) ensinar gramática na escola (Ed. Mercado de Letras, 1996), Sírio Possenti faz questão de enfatizar (p. 17-18):O PAPEL DA ESCOLA É ENSINAR LÍNGUA PADRÃO
[...] adoto sem qualquer dúvida o princípio (quase evidente) de que o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra hipótese é um equívoco político e ideológico. E eu mesmo, que não tenho hesitado em combater abertamente a manutenção das concepções arcaicas e preconceituosas de língua, escrevi em meu mais recente livro publicado (Português ou Brasileiro? Um convite à pesquisa, Parábola Editorial, 2001):[...] como responder a pergunta (invariavelmente presente na fala dos professores de língua): qual o objeto de ensino nas aulas de português? O que devemos ensinar a nossos alunos em sala de aula?
Uma resposta concisa e rápida seria: devemos ensinar a norma-padrão. Já que só se pode ensinar algo que o aprendiz ainda não conhece, cabe à escola ensinar a norma-padrão, que não é língua materna de ninguém, que nem sequer é língua, nem dialeto, nem variedade, como enfatizei acima. Ensinar o padrão se justificaria pelo fato dele ter valores que não podem ser negados – em sua estreita associação com a escrita, ele é o repositório dos conhecimentos acumulados ao longo da história. Esses conhecimentos, assim armazenados, constituiriam a cultura mais valorizada e prestigiada, de que todos os falantes devem se apoderar para se integrar de pleno direito na produção/condução/transformação da sociedade de que fazem parte.Tenho, portanto, a consciência muito tranqüila (como decerto também a têm Magda Soares, Sírio Possenti e, de fato, a maioria dos lingüistas e educadores brasileiros comprometidos com a democratização de nossa sociedade) de não fazer parte daquela “corrente relativista” e de não poder ser acusado de ter um “raciocínio torto”. Por isso, volto a lamentar que o Sr. João Gabriel de Lima não tenha dado nome aos bois, para que, juntos, pudéssemos combater esse suposto “esquerdismo de meia-pataca”. Não nomear seus adversários no plano intelectual, no entanto, é prática corrente de pessoas como Pasquale Cipro Neto que, embora alegando referir-se a “alguns” lingüistas, nunca se dá ao trabalho de dizer quem são os “idiotas”, “ociosos” e “deslumbrados” a que se refere.
A grande diferença entre os lingüistas e educadores que defendem o ensino da norma-padrão e os apregoadores da doutrina gramatical arcaica está no fato de que já se sabe hoje em dia que, para aprender as formas mais padronizadas e prestigiosas da língua, não é necessário conhecer a nomenclatura gramatical tradicional, as definições tradicionais, nem praticar a velha e mecânica análise lexical e muito menos a torturante análise sintática. Em seu depoimento a VEJA, o Sr. Pasquale Cipro Neto lamenta que ninguém mais saiba diferenciar “sujeito” de “predicado”, nem mesmo os professores. Ora, todo um longo trabalho de investigação teórica e de pesquisa em sala de aula – no Brasil e no resto do mundo -, trabalho que se faz há pelo menos trinta anos, já deixou muito claro que não é decorando as páginas da gramática normativa que uma pessoa será capaz de falar, ler e escrever adequadamente às diversas situações. O já citado M. Stubbs escrevia, em 1987, queMuita gente lamenta o fim do ensino da gramática formal (análise sintática e coisas assim), alegando que ele ajudava as crianças a escrever melhor, com mais precisão e assim por diante. [...] é duvidoso que aquele ensino jamais tenha ajudado muita gente a escrever melhor, e é nítido que ele afugentou um grande número de pessoas. A relação entre análise e compreensão, e entre compreensão consciente e produção de linguagem efetiva, é difícil de demonstrar.E o pedagogo canadense Gilles Gagné, em 1983, já dizia:”O uso da língua procede da intenção para a convenção”, conclui McShane (1981), ao passo que a escola procede infelizmente ao contrário, isto é, das convenções lingüísticas para as intenções de comunicação; intenções, além disso, quase sempre artificiais e impostas ou sugeridas pelo mestre.E aquele que é considerado hoje, inclusive internacionalmente, como o nome mais importante da pesquisa científica sobre o português brasileiro contemporâneo – o Prof. Ataliba T. de Castilho, da USP, atual presidente da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina e coordenador do grande Projeto da Gramática do Português Falado (projeto apresentado de maneira distorcida e preconceituosa no número 1710 de VEJA) – escreve com toda clareza em seu livro A língua falada e o ensino de português (Ed. Contexto, 1998, p. 21-22):[...] os recortes lingüísticos devem ilustrar as variedades sócio-culturais da Língua Portuguesa, sem discriminações contra a fala vernácula do aluno, isto é, de sua fala familiar. A escola é o primeiro contato do cidadão com o Estado, e seria bom que ela não se assemelhasse a um “bicho estranho”, a um lugar onde se cuida de coisas fora da realidade cotidiana. Com o tempo o aluno entenderá que para cada situação se requer uma variedade lingüística, e será assim iniciado no padrão culto, caso já não o tenha trazido de casa. Desse modo, prossegue o autor (p. 23),a gramática deixará de ser vista pelos alunos como a disciplina do certo e do errado, reassumindo sua verdadeira dimensão, que é a de esquadrinhar através dos materiais lingüísticos o funcionamento da mente humana. Afinal, o que aconteceu, ao longo dos séculos, segundo Castilho, foi quea gramática, que não era uma disciplina autônoma, assumiu na escola uma vida própria, desgarrada de suas origens, e concentrada apenas na sentença, na palavra e no som, obscurecendo-se sua argumentação e empobrecendo-se seu alcance. Se existe, porém, uma grande resistência contra o redimensionamento do lugar do ensino da gramática na escola é porque todos sabemos que, ao longo do tempo, o conhecimento mecânico da doutrina gramatical se transformou num instrumento de discriminação e de exclusão social. “Saber português”, na verdade, sempre significou “saber gramática”, isto é, ser capaz de identificar – por meio de uma terminologia falha e incoerente – o “sujeito” e o “predicado” de uma frase, pouco importando o que essa frase queria dizer, os efeitos de sentido que podia provocar etc. Transformada num saber esotérico, reservado a uns poucos “iluminados”, a “gramática” passou a ser reverenciada como algo misterioso e inacessível – daí surgiu a necessidade de “mestres” e “guias”, capazes de levar o “ignorante” a atravessar o abismo que separa os que sabem dos que não sabem português…
Em conclusão, Sr. Editor, gostaria de lhe pedir que, uma vez que tão amplo espaço foi concedido aos defensores da idéia medieval de que “os brasileiros não sabem falar bem”, caberia agora a VEJA conceder igual espaço aos verdadeiros especialistas, às pessoas que dedicam toda sua energia, toda sua inteligência, toda sua vida, enfim, ao estudo dos fenômenos da linguagem humana e à proposição de novos métodos de ensino, capazes de dar voz aos que, por força de tantas estruturas sociais injustas, sempre foram mantidos no silêncio. Talvez assim VEJA possa se livrar do risco de ser acusada de promover “distorções deliberadas dos fatos lingüísticos e pedagógicos”.Atenciosamente,MARCOS BAGNO
Doutor em Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo
Mestre em Lingüística pela Universidade Federal de Pernambuco
Escritor com mais de 20 livros publicados
Tradutor profissional de inglês, francês, espanhol e italiano
Membro da Associação Brasileira de LingüísticaAutor das seguintes obras sobre língua e educação, amplamente adotadas nas universidades brasileiras:
· A Língua de Eulália. Novela sociolingüística – Ed. Contexto, 1997 (em 10a edição, mais de 50.000 exemplares vendidos)
· Pesquisa na escola: o que é, como se faz – Ed. Loyola, 1998 (em 8ª edição, mais de 30.000 exemplares vendidos)
· Preconceito lingüístico: o que é, como se faz – Ed. Loyola, 1999 (em 10a edição, mais de 50.000 exemplares vendidos)
· Dramática da Língua Portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão social – Ed. Loyola, 2000
· Português ou Brasileiro? Um convite à pesquisa – Parábola Editorial, 2001 (1a edição esgotada em menos de dois meses)
· Norma lingüística (seleção e tradução de textos de autores estrangeiros sobre a questão da norma) – Ed. Loyola, 2001
MARCOS BAGNO
in REVISTA VEJA Edição 1710.
DOSSIÊ
DISCUSSÃO SOBRE LIVRO DIDÁTICO SÓ REVELA IGNORÂNCIA DA GRANDE IMPRENSA
AÇÃO EDUCATIVA
O livro, "Por uma vida melhor", busca desmistificar a noção de erro, substituindo-a pela de adequação/inadequação. Isso porque, a Linguística, bem como qualquer outra ciência humana, não pode admitir a superioridade de uma expressão cultural sobre outra. Ao dizer que a população com baixo grau de escolaridade fala ―errado‖, o que está-se dizendo é que a expressão cultural da maior parte da população brasileira é errada, ou inferior à das classes dominantes. Isso não pode ser concebido, nem publicado deliberadamente como foi nos meios de comunicação. É esse ensinamento básico que o material propõe, didaticamente, aos alunos que participam da Educação de Jovens e Adultos. Mais apropriado, impossível. Paulo Freire ficaria orgulhoso.
(alunos da PUC-SP - formandos 2011)
------------------------------------------
O assunto é antigo:
Carta de Marcos Bagno para a revista Veja (EDIÇÃO 1725)
Revista VEJA _ Edição 1752 (nov 2001)
São Paulo, 4 de novembro de 2001
Sr. Editor,
Em 1990, o lingüista e educador britânico Michael Stubbs escrevia que “toda a área da língua na educação está impregnada de superstições, mitos e estereótipos, muitos dos quais têm persistido por séculos e, às vezes, com distorções deliberadas dos fatos lingüísticos e pedagógicos por parte da mídia”. É triste constatar que essas palavras, publicadas há mais de uma década, se aplicam com precisão impressionante ao que ainda ocorre hoje em dia no Brasil. Afinal, de que outro modo qualificar a reportagem de capa do número 1725 de VEJA senão como uma série de “distorções deliberadas dos fatos lingüísticos e pedagógicos por parte da mídia”?
O texto assinado pelo Sr. João Gabriel de Lima demonstra o quanto nossos meios de comunicação de massa se encontram, perdoe-me o lugar-comum, na contramão da História quando o assunto é língua. Há um absoluto despreparo de jornalistas e comunicadores para tratar do tema (um exemplo gritante disso veio a público em outra edição recente de VEJA, a de número 1710, com a reportagem “Todo mundo fala assim”).
Se falo de contramão é porque – passados mais de cem anos de surgimento, crescimento e afirmação da Lingüística moderna como ciência autônoma -, a mídia continua a dar as costas à investigação científica da linguagem, preferindo consagrar-se à divulgação e sustentação das “superstições, mitos e estereótipos” que circulam na sociedade ocidental há mais de dois mil anos. Isso é ainda mais surpreendente quando se verifica que, na abordagem de outros campos científicos, os meios de comunicação se mostram muito mais cuidadosos e atenciosos para com os especialistas da área. Quando o assunto é língua, porém, o espaço maior é invariavelmente ocupado por alguns oportunistas que, apoderando-se inteligentemente dessas “superstições, mitos e estereótipos”, conseguem transformar esse folclore lingüístico em bens de consumo que lhes rendem muito lucro financeiro, além de fama e destaque na mídia. Basta comparar o espaço dedicado, no último número de VEJA, ao Prof. Luiz Antônio Marcuschi (reconhecido quase unanimemente hoje no Brasil como o nome mais importante da ciência lingüística entre nós) e aos atuais pregadores da tradição gramatical que infestam o quotidiano dos brasileiros com suas quinquilharias multimidiáticas sobre o que é “certo” e “errado” na língua.
Seria espantoso ver uma matéria de VEJA em que aparecessem zoólogos falando mal da Biologia, ou engenheiros criticando a Física, ou cirurgiões maldizendo da Medicina. No entanto, ninguém se espanta (e muitos até aplaudem) quando o Sr. João Gabriel de Lima, fazendo eco aos detratores da Lingüística (como o Sr. Pasquale Cipro Neto), fala da existência de “certa corrente relativista” e escreve absurdos como “trata-se de um raciocínio torto, baseado num esquerdismo de meia-pataca, que idealiza tudo o que é popular – inclusive a ignorância, como se ela fosse atributo, e não problema, do ‘povo’. O que esses acadêmicos preconizam é que os ignorantes continuem a sê-lo.” Seria muito fácil retrucar que estamos aqui diante de um “direitismo de meia-pataca” que acredita na existência de uma “ignorância popular”, mas, como cientista, prefiro recorrer a outro tipo de argumento, baseado na reflexão teórica serena e na experiência conjunta de muitas pessoas que há anos se dedicam ao estudo e ao ensino da língua portuguesa no Brasil.
Segundo a reportagem, as críticas que o Sr. Pasquale Cipro Neto recebe dessa “corrente relativista” deixam-no “irritado”. Ora, o que parece realmente irritar o Sr. Pasquale é o fato de que, apesar de obter tanto sucesso entre os leigos, nada do que ele diz ou escreve é levado a sério nos centros de pesquisa científica sobre a linguagem, sediados nas mais importantes universidades do Brasil – centros de pesquisa lingüística, diga-se de passagem, reconhecidos internacionalmente como entre alguns dos melhores do mundo (Unicamp, USP, Unesp, UFRGS, UFPE entre outras). Muito pelo contrário, se o nome do Sr. Pasquale é mencionado nas nossas universidades, é sempre como exemplo de uma atitude anticientífica dogmática e até obscurantista no que diz respeito à língua e seu ensino (em vários de seus artigos em jornais e revistas ele já chamou os lingüistas de “idiotas”, “ociosos”, “defensores do vale-tudo” e “deslumbrados”).
Se o Sr. Pasquale se irrita com os cientistas da linguagem, é porque sabe que não tem como responder às críticas que recebe por parte dos pesquisadores, dos teóricos e dos educadores empenhados num conhecimento maior e melhor da realidade lingüística do nosso país. Digo isso com base na experiência de já ter participado de três debates junto com o Sr. Pasquale e ter conhecido sua estratégia de nunca responder com argumentos consistentes às críticas a ele dirigidas, preferindo sempre retrucar com arrogância, prepotência, grosserias e ataques pessoais (chamando os lingüistas de “ortodoxos” – seja isso lá o que for – e de “bichos-grilos”) ou fazendo-se de vítima de alguma perseguição (num desses encontros ele declarou sentir-se como um “boi de piranha”).
A razão para essa falta de argumentos consistentes é muita simples: o Sr. Pasquale não tem formação científica para tratar dos assuntos de que trata. Suas opiniões se baseiam exclusivamente na arcaica doutrina gramatical normativo-prescritiva, cuja inconsistência teórica e cujos problemas epistemológicos graves vêm sendo demonstrados e criticados pela Lingüística moderna desde pelo menos o final do século XIX. As concepções do Sr. Pasquale de “certo” e de “errado” estão em franca oposição, não só com as teorias científicas mais atuais, mas até mesmo com a postura investigativa dos gramáticos profissionais de sólida formação filológica (coisa que ele definitivamente não é), para não mencionar as diretrizes pedagógicas das instâncias superiores da Educação nacional. O documento do Ministério da Educação chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, é bem explícito em seu volume dedicado ao ensino da língua portuguesa: A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia sobre ‘o que se deve e o que não se deve falar e escrever’, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua.E este mesmo documento é enfático ao afirmar que:há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar: é muito comum se considerarem as variedades lingüísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional mais amplo de educação para o respeito à diferença. Para isso, e também para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma ‘certa’ de falar – a que se parece com a escrita – e o de que a escrita é o espelho da fala – e, sendo assim, seria preciso ‘consertar’ a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um deles tenha em um dado momento histórico.É provável, no entanto, que o Sr. Pasquale Cipro Neto e o Sr. João Gabriel de Lima acreditem que os Parâmetros Curriculares Nacionais sejam obra de membros daquela “corrente relativista” que conseguiram se infiltrar no Ministério da Educação e se apoderar da redação do documento oficial. Vamos, então, deixar de lado as propostas oficiais de ensino e lançar um olhar sobre a própria prática normativo-prescritiva de pessoas como o Sr. Pasquale – assim ficará mais fácil descobrir por que ele não encontra argumentos para reagir às críticas bem-fundadas dos lingüistas e educadores sérios e por que só consegue fazer sucesso entre os leigos e os que se recusam (certamente por motivações ideológicas) a aceitar uma concepção de língua mais democrática.
Consultando a gramática que Pasquale Cipro Neto assina em parceria com Ulisses Infante (Gramática da Língua Portuguesa, Editora Scipione, São Paulo, 1998), encontra-se, à p. 521-522, a seguinte explicação para o uso supostamente “correto” do verbo custar:Custar, no sentido de “ser custoso”, “ser penoso”, “ser difícil” tem como sujeito uma oração subordinada substantiva reduzida. Observe:
Ainda me custa aceitar sua ausência.
Custou-nos encontrar sua casa.
Custou-lhe entender a regência do verbo custar.
No Brasil, na linguagem cotidiana, são comuns construções como “Zico custou a chutar” ou “Custei para entender o problema” [...]
Na língua culta, essas construções em que custar apresenta um sujeito indicativo de pessoa são rejeitadas. Em seu lugar, devem-se utilizar construções em que surja objeto indireto de pessoa: “Custou a Zico chutar” (= Custou-lhe chutar”)Quero chamar a atenção, aqui, para a seguinte afirmação dos autores: “Na língua culta, essas construções [...] são rejeitadas”. Aqui está um exemplo claro e nítido de uma concepção abstrata da língua, tratada como uma espécie de entidade viva, de sujeito animado, capaz de “rejeitar” alguma coisa. Ora, que língua culta é essa que supostamente rejeita essas construções? Será a língua dos nossos grandes escritores, que sempre serviu de material para o trabalho dos gramáticos normativistas? Fui investigar e descobri que não é, porque os exemplos de uso do verbo custar com sujeito são mais do que abundantes na nossa melhor literatura:(1) “Seixas custou a conter-se” (José de Alencar)
(2) “… as moças custavam a se separar” (Clarice Lispector)
(3) “Renato custou a acordar” (Carlos Drummond de Andrade)
(4) “Felicidade, custas a vir e, quando vens, não te demoras” (Cecília Meireles)”Será que Alencar, Clarice Lispector, Drummond e Cecília Meireles não são bons exemplos de usuários da “língua culta”? Se não é na literatura, quem sabe, então, se recorrermos à imprensa contemporânea? Será que é lá que mora a famosa “língua culta” que rejeita essas construções? Ora, consultando o jornal onde o próprio Pasquale Cipro Neto escreve (Folha de S. Paulo) e onde presta serviços de “consultor de português” (seja isso lá o que for), encontramos:(6) Quem foi ao show de Maria Bethânia, anteontem à noite, depois de assistir o sóbrio concerto de João Gilberto, custou a crer que estivesse na mesma cidade (22/6/1998, p. 5-10).(7) O técnico colombiano, Hernán Darío Gómez, [...] custou a admitir a superioridade rival (16/6/1998, p. 4-14).(8) O nome Kubitschek era complicado de pronunciar, custou a ser assimilado pela fonética eleitoral (21/11/1997, p. 4-3).Se lembrarmos que José de Alencar morreu em 1877, fica muitíssimo claro que essa construção está viva e presente na nossa língua há muito mais de um século! Os autores da gramática estão proferindo uma inverdade ao dizer que essa construção é típica do “Brasil quotidiano”. Os Srs. Pasquale e Ulisses, em vez de se curvar à realidade concreta dos fatos, tentam nos convencer de que a opção que eles preferem, só porque é a tradicional, é que deve ser considerada “a melhor”. É uma atitude essencialmente dogmática, que se recusa a empreender a pesquisa empírica mínima necessária para afirmações sobre o que existe e o que não existe na língua. Além disso, essa atitude é ainda mais conservadora do que a posição assumida por gramáticos de gerações anteriores à deles, como Celso Pedro Luft e Domingos Paschoal Cegalla, que reconhecem a vitória da construção “eu custo a crer que”…
Esse é apenas um pequeno exemplo de como é fácil, para um pesquisador munido de instrumental teórico consistente e de metodologia científica adequada, desautorizar uma a uma, e de modo convincente, as afirmações presentes no trabalho do Sr. Pasquale Cipro Neto e de outros atuais defensores da doutrina gramatical tradicional mais normativa e mais prescritiva possível. Por causa de tudo isso é que a estréia do Sr. Pasquale no programa Fantástico da Rede Globo representa, para a grande maioria dos cientistas da linguagem e dos educadores conscientes, mais um exemplo de como o nosso trabalho ainda está no começo, apesar de tudo o que já temos dito e feito. O quadro do Sr. Pasquale no Fantástico faz regredir em pelo menos 25 anos os grandes avanços já obtidos pela Lingüística na renovação do ensino de língua na escola brasileira. Não consigo, portanto, deixar de repetir o chavão: ele se encontra na contramão da História.
Como já enfatizei acima, pessoas como o Sr. Pasquale só conseguem fazer sucesso entre os leigos, porque dizem exatamente o que as pessoas desejam ouvir: os mitos, as superstições e as crenças infundadas que, há mais de dois mil anos, guiam o senso-comum ocidental no que diz respeito à língua. Refiro-me ao senso-comum ocidental porque essa situação de embate entre uma ciência lingüística moderna e uma doutrina gramatical arcaica também se verifica em outros países – basta ler os livros Language Myths, publicado na Inglaterra sob organização de L. Bauer e P. Trudgill, e o Catalogue des idées reçues sur le langage, publicado na França por Marina Yaguello. É por isso que escrevi, acima, que nossa luta ainda está no começo. É uma pena que não possamos contar com a ajuda dos meios de comunicação para dissipar todos esses mitos e preconceitos, que impedem a formação, no Brasil em particular, de uma auto-estima lingüística, uma vez que tudo o que os brasileiros ouvem e lêem são os mesmos chavões, repetidos há séculos, de que “brasileiro não sabe português” e que a língua que falamos é “português estropiado”. (O pesquisador canadense Christophe Hopper localizou lamúrias e queixas sobre a “ruína” e a “decadência” do francês em textos publicados em 1933, 1905, 1730 e 1689, o que prova a antiguidade desse discurso alarmista e preconceituoso sobre o fenômeno da mudança das línguas ao longo do tempo!)
Outro fato lamentável, na reportagem de VEJA, é que seu autor não tenha prestado o grande favor à sociedade de identificar quem são os membros dessa “certa corrente relativista”, para que todos, público leitor em geral e lingüistas profissionais em particular, pudéssemos nos precaver contra o suposto “raciocínio torto” de um “esquerdismo de meia-pataca” dos que acreditam que ensinar a norma-padrão não seria útil para as classes sociais desfavorecidas. Minha curiosidade ficou especialmente aguçada porque, como pesquisador dedicado há muitos anos ao estudo das relações entre língua, ensino de língua e fenômenos sociais, até hoje não encontrei uma única obra – assinada por lingüista de formação ou por educador profissional – que negasse a importância do ensino da norma-padrão na escola brasileira, que pregasse a idéia torpe de que não se deve ensinar as formas prestigiosas da língua, ou que “preconizam que os ignorantes continuem a sê-lo”, para citar as palavras infelizes da reportagem de VEJA.
Entre os membros da comunidade acadêmico-científica que não se intimidam diante da pressão esmagadora das “superstições, mitos e estereótipos” sobre a língua podemos citar a Profa. Magda Soares (reconhecida como uma das mais importantes educadoras brasileiras de todos os tempos) e o Prof. Sírio Possenti (que nunca teve papas na língua para denunciar e demolir cientificamente os absurdos proferidos por gente como Pasquale Cipro Neto). Ora, já em 1986, Magda Soares, em seu livro (um clássico da educação brasileira) Linguagem e Escola (Editora Ática), escrevia, sem hesitação (p. 78):Um ensino de língua materna comprometido com a luta contra as desigualdades sociais e econômicas reconhece, no quadro dessas relações entre a escola e a sociedade, o direito que têm as camadas populares de apropriar-se do dialeto de prestígio, e fixa-se como objetivo levar os alunos pertencentes a essas camadas a dominá-lo, não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que divide e discrimina, mas para que adquiram um instrumento fundamental para a participação política e a luta contra as desigualdades sociais.Também em seu muito divulgado livro Por que (não) ensinar gramática na escola (Ed. Mercado de Letras, 1996), Sírio Possenti faz questão de enfatizar (p. 17-18):O PAPEL DA ESCOLA É ENSINAR LÍNGUA PADRÃO
[...] adoto sem qualquer dúvida o princípio (quase evidente) de que o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra hipótese é um equívoco político e ideológico. E eu mesmo, que não tenho hesitado em combater abertamente a manutenção das concepções arcaicas e preconceituosas de língua, escrevi em meu mais recente livro publicado (Português ou Brasileiro? Um convite à pesquisa, Parábola Editorial, 2001):[...] como responder a pergunta (invariavelmente presente na fala dos professores de língua): qual o objeto de ensino nas aulas de português? O que devemos ensinar a nossos alunos em sala de aula?
Uma resposta concisa e rápida seria: devemos ensinar a norma-padrão. Já que só se pode ensinar algo que o aprendiz ainda não conhece, cabe à escola ensinar a norma-padrão, que não é língua materna de ninguém, que nem sequer é língua, nem dialeto, nem variedade, como enfatizei acima. Ensinar o padrão se justificaria pelo fato dele ter valores que não podem ser negados – em sua estreita associação com a escrita, ele é o repositório dos conhecimentos acumulados ao longo da história. Esses conhecimentos, assim armazenados, constituiriam a cultura mais valorizada e prestigiada, de que todos os falantes devem se apoderar para se integrar de pleno direito na produção/condução/transformação da sociedade de que fazem parte.Tenho, portanto, a consciência muito tranqüila (como decerto também a têm Magda Soares, Sírio Possenti e, de fato, a maioria dos lingüistas e educadores brasileiros comprometidos com a democratização de nossa sociedade) de não fazer parte daquela “corrente relativista” e de não poder ser acusado de ter um “raciocínio torto”. Por isso, volto a lamentar que o Sr. João Gabriel de Lima não tenha dado nome aos bois, para que, juntos, pudéssemos combater esse suposto “esquerdismo de meia-pataca”. Não nomear seus adversários no plano intelectual, no entanto, é prática corrente de pessoas como Pasquale Cipro Neto que, embora alegando referir-se a “alguns” lingüistas, nunca se dá ao trabalho de dizer quem são os “idiotas”, “ociosos” e “deslumbrados” a que se refere.
A grande diferença entre os lingüistas e educadores que defendem o ensino da norma-padrão e os apregoadores da doutrina gramatical arcaica está no fato de que já se sabe hoje em dia que, para aprender as formas mais padronizadas e prestigiosas da língua, não é necessário conhecer a nomenclatura gramatical tradicional, as definições tradicionais, nem praticar a velha e mecânica análise lexical e muito menos a torturante análise sintática. Em seu depoimento a VEJA, o Sr. Pasquale Cipro Neto lamenta que ninguém mais saiba diferenciar “sujeito” de “predicado”, nem mesmo os professores. Ora, todo um longo trabalho de investigação teórica e de pesquisa em sala de aula – no Brasil e no resto do mundo -, trabalho que se faz há pelo menos trinta anos, já deixou muito claro que não é decorando as páginas da gramática normativa que uma pessoa será capaz de falar, ler e escrever adequadamente às diversas situações. O já citado M. Stubbs escrevia, em 1987, queMuita gente lamenta o fim do ensino da gramática formal (análise sintática e coisas assim), alegando que ele ajudava as crianças a escrever melhor, com mais precisão e assim por diante. [...] é duvidoso que aquele ensino jamais tenha ajudado muita gente a escrever melhor, e é nítido que ele afugentou um grande número de pessoas. A relação entre análise e compreensão, e entre compreensão consciente e produção de linguagem efetiva, é difícil de demonstrar.E o pedagogo canadense Gilles Gagné, em 1983, já dizia:”O uso da língua procede da intenção para a convenção”, conclui McShane (1981), ao passo que a escola procede infelizmente ao contrário, isto é, das convenções lingüísticas para as intenções de comunicação; intenções, além disso, quase sempre artificiais e impostas ou sugeridas pelo mestre.E aquele que é considerado hoje, inclusive internacionalmente, como o nome mais importante da pesquisa científica sobre o português brasileiro contemporâneo – o Prof. Ataliba T. de Castilho, da USP, atual presidente da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina e coordenador do grande Projeto da Gramática do Português Falado (projeto apresentado de maneira distorcida e preconceituosa no número 1710 de VEJA) – escreve com toda clareza em seu livro A língua falada e o ensino de português (Ed. Contexto, 1998, p. 21-22):[...] os recortes lingüísticos devem ilustrar as variedades sócio-culturais da Língua Portuguesa, sem discriminações contra a fala vernácula do aluno, isto é, de sua fala familiar. A escola é o primeiro contato do cidadão com o Estado, e seria bom que ela não se assemelhasse a um “bicho estranho”, a um lugar onde se cuida de coisas fora da realidade cotidiana. Com o tempo o aluno entenderá que para cada situação se requer uma variedade lingüística, e será assim iniciado no padrão culto, caso já não o tenha trazido de casa. Desse modo, prossegue o autor (p. 23),a gramática deixará de ser vista pelos alunos como a disciplina do certo e do errado, reassumindo sua verdadeira dimensão, que é a de esquadrinhar através dos materiais lingüísticos o funcionamento da mente humana. Afinal, o que aconteceu, ao longo dos séculos, segundo Castilho, foi quea gramática, que não era uma disciplina autônoma, assumiu na escola uma vida própria, desgarrada de suas origens, e concentrada apenas na sentença, na palavra e no som, obscurecendo-se sua argumentação e empobrecendo-se seu alcance. Se existe, porém, uma grande resistência contra o redimensionamento do lugar do ensino da gramática na escola é porque todos sabemos que, ao longo do tempo, o conhecimento mecânico da doutrina gramatical se transformou num instrumento de discriminação e de exclusão social. “Saber português”, na verdade, sempre significou “saber gramática”, isto é, ser capaz de identificar – por meio de uma terminologia falha e incoerente – o “sujeito” e o “predicado” de uma frase, pouco importando o que essa frase queria dizer, os efeitos de sentido que podia provocar etc. Transformada num saber esotérico, reservado a uns poucos “iluminados”, a “gramática” passou a ser reverenciada como algo misterioso e inacessível – daí surgiu a necessidade de “mestres” e “guias”, capazes de levar o “ignorante” a atravessar o abismo que separa os que sabem dos que não sabem português…
Em conclusão, Sr. Editor, gostaria de lhe pedir que, uma vez que tão amplo espaço foi concedido aos defensores da idéia medieval de que “os brasileiros não sabem falar bem”, caberia agora a VEJA conceder igual espaço aos verdadeiros especialistas, às pessoas que dedicam toda sua energia, toda sua inteligência, toda sua vida, enfim, ao estudo dos fenômenos da linguagem humana e à proposição de novos métodos de ensino, capazes de dar voz aos que, por força de tantas estruturas sociais injustas, sempre foram mantidos no silêncio. Talvez assim VEJA possa se livrar do risco de ser acusada de promover “distorções deliberadas dos fatos lingüísticos e pedagógicos”.Atenciosamente,MARCOS BAGNO
Doutor em Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo
Mestre em Lingüística pela Universidade Federal de Pernambuco
Escritor com mais de 20 livros publicados
Tradutor profissional de inglês, francês, espanhol e italiano
Membro da Associação Brasileira de LingüísticaAutor das seguintes obras sobre língua e educação, amplamente adotadas nas universidades brasileiras:
· A Língua de Eulália. Novela sociolingüística – Ed. Contexto, 1997 (em 10a edição, mais de 50.000 exemplares vendidos)
· Pesquisa na escola: o que é, como se faz – Ed. Loyola, 1998 (em 8ª edição, mais de 30.000 exemplares vendidos)
· Preconceito lingüístico: o que é, como se faz – Ed. Loyola, 1999 (em 10a edição, mais de 50.000 exemplares vendidos)
· Dramática da Língua Portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão social – Ed. Loyola, 2000
· Português ou Brasileiro? Um convite à pesquisa – Parábola Editorial, 2001 (1a edição esgotada em menos de dois meses)
· Norma lingüística (seleção e tradução de textos de autores estrangeiros sobre a questão da norma) – Ed. Loyola, 2001
MARCOS BAGNO
in REVISTA VEJA Edição 1710.
Assinar:
Postagens (Atom)